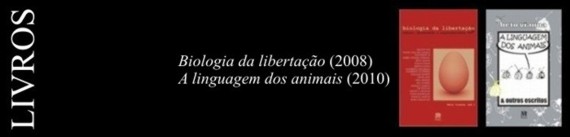A linguagem e a biologia da Quarta-feira de Cinzas
Beto Vianna
O Éden
Tem gente de mente colonizada, como eu, que acha Hieronymus Bosch e Pieter Bruegel os melhores artistas visuais do planeta. Há mais de 500 anos, Bosch pintou um conjunto de três telas - um “tríptico”, na gíria especializada - de nome “O jardim das delícias terrenas”. Como todos os trípticos, esse funciona assim: as telas laterais são abas que se fecham sobre a pintura central. Do lado de fora (nas costas das abas), Bosch pintou o mundo no terceiro dia da criação, com a vida vegetal desabrochando antes do advento da humanidade. Abertas as abas, saltam as delícias do jardim terreno de Bosch.
A tela da esquerda traz Deus, em pessoa, abençoando Eva antes de entregá-la a Adão. É uma cena de casamento, o casamento original, em um cenário de natureza intacta, a não ser por uma ou outra arquitetura biotecnológica, bem ao gosto de Bosch, e uma zoobotânica tão plausível quanto fantástica. Na tela da direita, pinta a confusão que resultou desse bendito casamento: as atividades (os prazeres e os negócios) de uma humanidade crescida e multiplicada tornam-se provações do inferno, um cenário gótico de Stephen King onde, da natureza original, só restam os corpos em agonia. Personagens vivos confundem-se com elementos de cena e, no fundo do palco, a cidade arde em chamas.
O painel central, maior, é o mais importante, posto que é central e maior. Essa tela deixou cinco séculos de críticos e historiadores de arte confusos, contorcendo-se para tirar significado de tanta perversão inocente, tanta beleza maldita, tanto pecado angelical. Num cenário psicodélico que mescla natureza e cultura (e interagindo com essa natureza e cultura), gente pelada de todas as cores entrega-se a toda classe de artes, especialmente a do amor. Aí, no desenho central, Bosch retratou o verdadeiro jardim humano: nem candidamente paradisíaco, como a cena da esquerda, nem lamentavelmente infernal, como a tela direitista. A imagem do meio é a mensagem.
A carne
Em 1559, o flamengo Pieter Bruegel pintou “A luta entre o Carnaval e a Quaresma”. Bruegel tem uma qualidade herdada de Bosch: quanto mais suas figuras retratam uma realidade corriqueira, mais o sonho brota da tela, mais afundamos em uma viagem alucinatória. Como em outros quadros seus, Bruegel pinta cenas do cotidiano da cidade, que, nesse caso, nos ajudam a desvendar o jardim central de Bosch. O Ocidente sempre foi berço de sonolentas dicotomias (a começar por autointitular-se Ocidente), e Bruegel, que não é bobo nem nada, pinta e borda duplicidades em seu quadro. A obra é uma explosão de dobros, de opostos, de espelhos. Pelo lado do Carnaval, ali estão os elementos mundanos do bêbado, do bar, da gula, da música, da máscara, da esbórnia e da carne. Da direita, vêm os oponentes (também mundanos, é claro): o clérigo, a igreja, a frugalidade, a devoção, a batina, a hóstia e o peixe, cerrando fileiras com a Quaresma. E os opostos, sendo opostos, não se repelem. Antes se entrelaçam e se confundem, como numa dessas cenas de batalha antiga, dirigidas por Mel Gibson.
Não posso deixar de pensar que o atual Carnaval de Belo Horizonte está repleto dos elementos contraditórios de um Carnaval que se preze, ainda que não tão explícitos quanto na andrógina folia de Bruegel. Alegre, popular, musicalmente cativante, a redescoberta festa de rua belorizontina está recheada da tradição carnavalesca de misturar, nas letras das marchinhas e nos gritos dos blocos, o louvor à frouxidão dos costumes e a denúncia à imoralidade política. Movimentos que surgiram da contestação política, como o Fora Lacerda e o Praia da Estação (este, já plenamente carnavalizado desde o início), deglutiram e foram deglutidos na apoteose do Carnaval da cidade, integrando-se ao delírio das máscaras e dos cortejos. Um mix de defesa política do espaço público e da diversidade comportamental que, por outro lado, não consegue se livrar de velhos ingredientes conservadores da classe média mineira.
O carrus navalis
No calor do Carnaval deste ano, li um artigo dizendo que a palavra “carnaval” passou a “significar o contrário do que significa”. Sugere que a etimologia do termo seria carnen laxare (sic), “deixar a carne”, pois, para o autor, o Carnaval está ligado ao ato de “abster-se de carne”. Bem o contrário, portanto, do desbunde que (segundo o autor) se vê no “carnaval de hoje”. Duvido que as palavras tenham um significado gravado a ferro e fogo em alguma pedra imemorial. E se podemos escolher, prefiro uma famosa etimologia popular, carne vale, que é o latim para “adeus à carne”. Muito apropriado, pois só bem nos despedimos de algo devorando fastidiosamente esse algo (a razão da despedida é celebrar a presença). Laxante, se houver algum, é a Quaresma, não o Carnaval.
A sacação etimológica de que mais gosto é carrus navalis. É possível que os gregos tenham sido os primeiros a se carnavalizar, com suas orgias bacantes, e tudo mais. Mas foram os romanos tardios que primeiro caíram, de fato, na folia. Essa plurirraça miscigenada de várias europas, ásias e áfricas é precursora dos latinos do Novo Mundo - nós -, como nos ensina Darcy Ribeiro. Precursores nossos na tristeza e na alegria, na paixão e na farra. Carrus navalis era o barco da deusa Ísis, uma carroça fantasiada de embarcação (ou seja, um carro alegórico), movida a álcool, amor e cantoria pelas ruas da antiga Roma. O entrudo tinha caráter religioso, a festa era uma forma de adoração, e atrás do Barco de Ísis só não ia quem já morrera.
Um devoto seguidor de Ísis foi o jovem imperador romano Calígula, que segundo o historiador Suetônio, era um tirano sanguinário e incestuoso. Mas Suetônio é o equivalente romano da imprensa golpista. Para o bem ou para o mal, Calígula entregava-se de alma e corpo às contradições de sua deusa africana, pairando entre o mundano e o divino. O imperador se fantasiava, segundo a ocasião, de suma autoridade ou rebelde anárquico, debochando da estrutura de poder e aliando-se ao povo contra a elite, em uma época em que Roma ainda não contava com o recurso populista do circo máximo. O filme “Calígula”, repleto de elementos carnais explícitos, soa mais boschiano que o relato moralista de Suetônio. Como na cena em que o imperador manda construir um imenso carrus navalis (a religião), onde as esposas dos senadores (a política) são oferecidas como prostitutas (o sexo). Puro Carnaval.
Vou sugerir, não como um esforço de interpretação, mas um truque pra me ajudar a dizer o que quero dizer, que o que une a ambígua tela central do jardim de Bosch, a mescla de opostos do quadro de Bruegel e a devoção mundana à deusa Ísis não é um tema específico, mas um dia específico, que se repete ano após ano em variadas (pois lunáticas) datas. Um dia que se repete desde que uma humanidade fundamentalmente erotizada quis, além disso (e, não, ao invés disso) ser pia: a Quarta-feira de Cinzas.
O processo civilizatório foi um jogo de opostos (irreconciliáveis, mas inextrincáveis) a nos condenar eternamente. Se isso é verdade na Europa de Bosch e Bruegel, mais ainda no Novo Mundo, em que o Carnaval transladado ganha a participação cada vez mais decisiva da indiada e do criouléu mal-saídos do cativeiro, e a folia sempre motivou a desconfiança e a tentativa de manipulação dos festejos pelos donos da terra. Por outro lado, o pendor religioso do populacho latino-americano tem sua melhor performance na Páscoa, quando as missas e procissões reúnem essa mesma massa pobre e marginal (paixão e movimento são uma coisa só). Se a Quarta-feira de Cinzas dá início à observância devocional, também é, para muitos, dia de Carnaval. Talvez o mais importante, por ser o último. A despedida, o carne vale.
Folia e devoção sobre-humana são protestos momentâneos diante de uma realidade opressora, desumanizadora. E a Quarta-feira de Cinzas é o momento desses momentos. É, mais que isso, a data (móvel, vá lá) oficial de se viver esses dois momentos de mãos dadas, sem muita vergonha, ou, pelo menos, atrás da oportuna máscara ou da religiosa abstinência (não comer o que usualmente se come é um jeito de se fantasiar). Na Quarta-feira, e só na Quarta-feira, o amor carnal e o amor devoto têm a mesma motivação política. Encontram-se, beijam-se. É a tela central do jardim antropofágico de Bosch, seja na Belo Horizonte de hoje ou na Roma eterna.
Publicado no jornal O Cometa Itabirano, março/2012